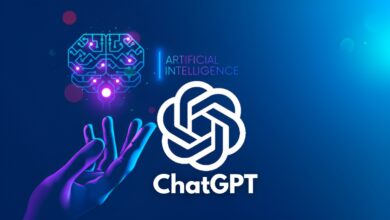O grupo britânico surgiu há quase 50 anos mas continua a fazer rir. Hugo Sousa, Ana Markl e Guilherme Duarte dizem porquê
O humorista Guilherme Duarte devia ter uns 12 anos anos quando viu, em casa de amigos que tinham as cassetes em VHS, a série Monty Python’s Flying Circus (que, embora poucos se lembrem, passou em Portugal com o título Os Malucos do Circo). “Provavelmente não percebi metade das piadas, mas lembro-me de ter gostado muito”, conta. “Mais tarde, fiquei fã.” E agora está a rever tudo e a “redescobrir os Monty” através da Netflix – que desde abril tem disponíveis não só o “circo” como os filmes O Cálice Sagrado, A Vida de Brian e O Sentido da Vida – com os olhos de um comediante de 34 anos.
E o veredicto é: os Monty Python estão sempre na moda. “Apesar de o humor envelhecer muito mal, especialmente quando se brinca com temas tabu que daí a uns anos já não têm a mesma carga, como eles estavam tantos anos à frente do seu tempo ainda hoje estão atuais”, diz o autor do blogue Por Falar noutra Coisa.
Não é o único a pensar assim. Outro humorista, Hugo Sousa, de 38 anos, um dos nomes da nova geração do stand up nacional, confessa que volta e meia tem vontade de rever uns sketches dos Monty Python. “Ainda esta semana estive a rever A Vida de Brian. Adoro, tal como adoro O Cálice Sagrado”, diz. “Continua superatual. É difícil encontrar noutros aquele tipo de humor, que é muito arrojado mas não é brejeiro”, explica. “Eles não dizem mal de ninguém, não gozam com figuras públicas, nesse sentido é muito politicamente correto, muito diferente do que é comum na stand up comedy.”
Ana Markl, animadora das manhãs da Antena 3 e guionista, conhecida também pelo seu humor, não tem dúvidas: “Voltei a rever agora alguns episódios do Flying Circus e confesso que até estava com algum receio. Mas fiquei espantada como é que aquelas piadas que eu revi em fases muito diferentes da minha vida conseguem sobreviver. Aquilo é mais do que um programa de humor, é uma performance artística alicerçada em referências estéticas profundas. Cada sketch é um statement e é um atrevimento para o nosso cérebro.”
O filme que George Harrison pagou
Se agora eles são um atrevimento, imaginem em 1969. A 5 de outubro de 2019 passam cinco décadas sobre o momento em que se ouviram pela primeira vez na BBC os acordes da marcha Liberty Bell, de John Philip Sousa, adaptados a tema musical da série Monty Python”s Flying Circus. Foi a partir desta altura que Terry Jones, Terry Gilliam, John Cleese, Michael Palin, Eric Idle e Graham Chapman (falecido em 1989) transformaram a comédia de televisão (e depois também de cinema) com o seu humor nonsense.
Reza a lenda que, mesmo depois do sucesso de Monty Python’s Flying Circus (1969-1973) e de O Cálice Sagrado (1975), o grupo não conseguia arranjar dinheiro para fazer o filme A Vida de Brian. Não havia nem no Reino Unido nem nos EUA nenhum produtor disposto a arriscar. Até que Eric Idle mostrou o argumento ao músico George Harrison, dos Beatles, e ele disse logo que dava o dinheiro. Porquê? “Porque quero ver este filme.”
Ainda bem que isso aconteceu. Depois de A Vida de Brian (1978), o grupo ainda haveria de fazer O Sentido da Vida (1983), completando a trilogia que ainda hoje continua a conquistar fãs. “O que mais admiro neles era a capacidade de arriscarem e de fazerem sketches que ainda hoje seriam considerados fora da caixa”, explica Guilherme Duarte. “Acho que são os melhores no nonsense, que é aquele estilo de humor que tem uma linha muito ténue entre ter piada e ser só parvo e que para mim é dos estilos mais difíceis de fazer bem. Depois, percebe-se a química entre todos eles e a produção que eles tinham é incomparável com as nossas, mesmo nos dias de hoje. Os textos e representações podem ser muito bons, mas, se não tens uma produção atrás como deve ser, fica-se limitado ao tipo de sketches que se faz.”
Macramé de momentos geniais
Ana Markl garante que nada daquilo que eles fizeram “perdeu a pertinência”, ainda que possamos questionar, por exemplo, o facto de serem só homens e de retratarem as mulheres quase sempre como estereótipos. “Aquilo tem um grau de absurdo tão grande que não parece errado que eles se vistam de mulheres, até faz sentido.” Além disso, talvez por ser mais adulta agora, encontrou nos sketches “mais camadas de humor”: “Cada episódio é um macramé de momentos geniais. E é impressionante a liberdade que havia dentro daquelas cabeças.”
“Eles foram muito inovadores naquela altura e influenciaram o humor que se fazia, incluindo em Portugal. Por isso acabam por influenciar os humoristas mais novos, mesmo que indiretamente”, explica Hugo Sousa. Nomes como Herman José ou os Gato Fedorento são herdeiros diretos daquele humor desregrado e inteligente. “O que mais me ensinaram foi essa capacidade de arriscar e fazer humor que não precisa de ser para toda a gente”, explica Guilherme Duarte. “Foi serem genuínos e fazerem coisas de que eles gostam e não de que o público irá gostar, e depois logo se vê. Acho que essa é a grande lição que retiro, especialmente quando estou a escrever sketches. Esse desprendimento é vital para se continuar a criar com total liberdade para surpreender o público.”
A olhar o lado bom da vida
Nos últimos tempos ouvimos falar muito de Terry Gilliam por causa do filme O Homem Que Matou Dom Quixote, que apresentou no Festival de Cannes. Nas notícias sobre as polémicas em volta do filme, raramente apareciam as palavras Monty Python: é verdade que a carreira de cada um deles ficará para sempre ligada ao sucesso do grupo, mas também é verdade que cada um deles seguiu com a sua vida e com carreiras muito diversas.
Gilliam como realizador, Michael Palin como reputado escritor de viagens. John Cleese é um ator em nome próprio, nomeado para um Óscar por Um Peixe Chamado Vanda (1988) e é o responsável pela pequena maravilha que é a série de humor Fawlty Towers (1975). Eric Idle continuou uma carreira mais ligada à música e ao teatro e foi o criador do musical Spamalot – que, tudo indica, irá agora ser transformado em filme.
Em outubro, seguindo os exemplos de Palin e de Cleese, Eric Idle vai publicar a sua autobiografia: “Costumávamos ser um íman de público, agora somos apenas ímanes de frigorífico. Achei que era altura de contar a minha história antes de ter amnésia, que é algo que costuma acontecer aos atores mais velhos”, explicou. “É um livro sobre o tipo que escreveu uma canção que se tornou a canção mais popular em funerais em Inglaterra”, brincou. Afinal, como diz a canção, há que olhar sempre o lado bom da vida.