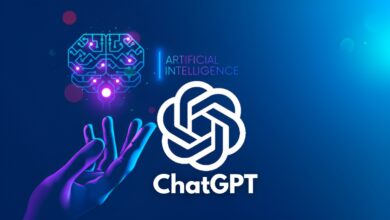Patrícia Gaspar: de menina que sonhava com submarinos a espia e comandante da Proteção Civil
Antes de ser comandante da Proteção Civil, Patrícia Gaspar esteve na Marinha. Entrou num submarino com 12 anos, foi espia dos Serviços Secretos Militares e antes da independência de Timor falava horas com Xanana Gusmão ao telefone.

Chega em passos firmes, determinada. A farda justa azul naval assenta perfeita no corpo elegante e o cabelo solto é logo de seguida apanhado num longo rabo-de-cavalo. “São as ordens de serviço”, explica. Patrícia Gaspar, 45 anos, é a mulher que muitos se habituaram a ver como o “rosto” da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), mas é muito, muito mais do que uma “cara”.
Atualmente é a segunda comandante operacional nacional e coordenou as operações, a partir do dia 7 de agosto, no recente incêndio de Monchique – ao quinto dia do fogo. Filha de pai militar da Marinha, navegou num submarino com apenas 12 anos e acabou por integrar esse ramo das Forças Armadas.
Foi escolhida para a secção de informações e acabou por fazer carreira no Serviço de Informações Estratégicas e Defesa Militar (atual SIED), responsável por uma das pastas mais quentes da altura: a independência de Timor-Leste. Foi ela a primeira voz portuguesa que Xanana Gusmão ouviu na cadeia de Cipinang, quando falou através do telefone-satélite que lhe tinha sido levado pelos operacionais portugueses.
Quando veio a Portugal, já como cidadão de um país livre, o herói timorense quis conhecê-la pessoalmente. Nesta entrevista, numa esplanada com vista para o Tejo, Patrícia Gaspar recorda todos esses momentos, revela como conseguiu manter-se forte e inabalável quando teve de anunciar as mortes dos incêndios de 2017 e confidencia o momento em que quebrou.
Comecemos pelo princípio, Patrícia. Onde nasceu e como foi a sua infância e juventude?
Nasci em Lisboa, mas vivi sempre no Barreiro, com exceção de três anos em que estive, com a minha mãe e irmã, a acompanhar o meu pai, atualmente contra-almirante na reforma, numa missão da NATO em Bruxelas. Completei o ensino secundário no Barreiro e licenciei-me em Relações Internacionais no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, em Lisboa.
Calma, calma… Antes de vir para a faculdade, como era a sua vida no Barreiro? Sabemos que ingressou mais tarde na Marinha. Isso foi por influência do seu pai?
O meu pai foi sempre a minha referência em termos profissionais. Gostava muito de o acompanhar, principalmente quando ele esteve na esquadrilha de submarinos. Não sei se hoje em dia ainda é assim, mas na altura essa esquadrilha era como uma casa de família. Nós crescemos na esquadrilha de submarinos.
Conhecia todos os colegas do seu pai, não?
Sim, todos. Entrava e saía dos submarinos, andávamos por ali, era quase um ATL [atividades de tempos livres] para nós. Nas férias era muito frequente ir com o meu pai passar o dia na base do Alfeite, onde estavam os submarinos.
E com a mãe não?
A minha mãe era bancária, era mais difícil e não tinha tanta graça. Todo aquele mundo da Marinha me fascinava em criança, muito embora nunca me tivesse passado pela cabeça vir a fazer parte dele.
O que a atraía mais na Marinha?
Gostava sobretudo da ação. De coisas que tivessem movimento, dinâmica, o sentir que se cumpriam ali missões importantes. Tanto chateei o meu pai, que um dia ele levou-me mesmo para o mar.
Que idade tinha?
Uns 11, 12 anos.
E como foi essa primeira experiência como “marinheira” a navegar com o pai?
Embarcámos em Sesimbra num navio que já não existe, um draga-minas chamado São Roque e fomos fazer uma navegação de treino. Era suposto ser simplesmente uma experiência de navegação de superfície, mas, coincidência das coincidências, o navio recebeu um alerta para busca e salvamento. Havia uma embarcação em apuros ao largo da costa e o navio mais próximo era o nosso. O problema é que nós não podíamos ir, não sabíamos quanto tempo ia demorar, o meu pai, e sobretudo eu, tinha de desembarcar ao final do dia. Eis senão quando a única alternativa era passar para um submarino que também estava na zona a fazer um exercício. Então descemos por uma escada quebra-costas do draga-minas para um bote, o bote apegou ao submarino e entrámos. Depois o submarino foi até junto à costa, onde fundeou, tornámos a entrar no bote e chegámos a terra.
Que aventura!
Foi uma coisa fora de série. Toda a minha infância e o contacto com o trabalho do meu pai deixou claro para mim que nunca poderia ter um emprego dito “normal”. Tinha de fazer alguma coisa que eu sentisse que ia contribuir para algo importante. Acho que foi aí que tudo o que vim a ser começou. Na faculdade, por exemplo, enquanto os meus colegas estavam todos muito interessados no corpo diplomático, isso nunca esteve no meu horizonte. Sempre olhei para a área da defesa com muito mais interesse. Por coincidência, abre um concurso para a Marinha logo no ano a seguir a ter terminado a licenciatura.
E claro que o seu pai lhe sugeriu que concorresse…
Por acaso, nem por isso. Ele chegou a casa e a única coisa que me disse foi “está aberto um concurso para técnico superior naval, está aqui a publicação, se estiveres interessada vê o que queres fazer”.
Era uma carreira militar?
Sim. Eu fui militar durante o tempo em que estive na Marinha. Era oficial. Os chamados técnicos superiores navais faziam uma formação militar. A única diferença – e que era uma grande diferença – é que, por exemplo, o meu pai fez todo o percurso na Escola Naval, seguindo a carreira até contra-almirante. O que não era o meu caso. Eu jamais poderia ter feito isso porque não fiz a Escola Naval. Licenciei-me cá fora, num curso que a Marinha achou que era importante ter, como também tem advogados, arquitetos, áreas específicas nas quais a Marinha não tem gente formada e vai buscar estas pessoas licenciadas. Em vez de ficarmos no quadro civil, a opção foi integrarmos os quadros militares, em regime de contrato. Não completei os oito anos possíveis, apenas cinco e qualquer coisa, e cheguei a segundo-tenente. Foi nessa altura que abriu um concurso para a Proteção Civil…
Já está a ir outra vez depressa demais. E na Marinha, como foram esses cinco anos?
Nos primeiros anos estive colocada na secção de protocolo do Estado-Maior da Armada. Durante dois anos organizei os processos das visitas dos navios estrangeiros a Portugal e dos nossos navios ao exterior. Serviu logo para perceber toda a dinâmica. Depois fui convidada para o recém-criado SIEDM (Serviço de Informações Estratégicas e de Defesa Militar)…
E como se é convidada para um SIEDM?
Bem, não estava mesmo nada à espera. Um oficial de Marinha com quem eu tinha trabalhado no Estado-Maior ia chefiar a secção de operações e convidou-me. O SIEDM era um serviço novo e queria gente nova, para dinamizar as operações.
E o que nos pode contar que não viole nenhum segredo de Estado? Foi espia mesmo de terreno ou era, por exemplo, analista de secretária?
Eu era oficial de informações.
Foi espia, então.
Bem, mais ou menos. Fiz algumas missões…
No estrangeiro?
Sim. O que fazíamos era gestão de fontes. Ou seja, recolhíamos informações relacionadas com os dossiês que nos estavam atribuídos para que essas informações pudessem ser tratadas e servissem de apoio à decisão governativa, nas áreas consideradas mais estratégicas.
E pode saber-se quais eram as suas pastas?
Uma delas foi a de Timor-Leste, em todo o processo da independência. Nós no SIEDM acompanhámos todo o processo de libertação de Xanana Gusmão da cadeia de Cipinang, em Jacarta, onde esteve preso sete anos. Os primeiros telefones-satélite que entraram em Timor fomos nós que levámos.
E foi a Timor?
Só fui a Timor há dois anos, em 2016, receber uma condecoração do Presidente da República, Taur Matan Ruak, pelo trabalho efetuado nesse tempo do SIEDM. O mais perto que estive nessa altura foi na Austrália, onde tínhamos um contacto nosso que nos ajudava na recolha de informações em Timor.
Que idade tinha nessa altura? Deve ter sido fascinante…
Tinha 24, 25 anos. Foi incrível, sim. A minha mãe dizia que me pagavam para eu andar a “brincar”, querendo com isso dizer que a minha realização e gosto por aquilo que fazia era de tal forma que nem se podia considerar um trabalho. Mas, claro, não era mesmo uma “brincadeira”, era uma coisa séria para mim. Mas, como quando era miúda dizia que queria ser detetive, a minha mãe metia-se comigo e dizia “pagam-te para andares divertida!”. Foi mesmo a realização de um sonho. Fizemos muita formação, incluindo com serviços congéneres e foi mesmo, não digo o apogeu, mas um pico profissional para mim.
Um grande desafio?
Sim, um enorme desafio. E com a sorte de apanhar um dossiê num momento de grande mudança. O SIEDM era dirigido pelo embaixador Monteiro Portugal (falecido em 2006) e tínhamos uma grande autonomia no nosso trabalho. Acompanhar um dossiê histórico para Portugal para alguém como eu, que vinha da área das relações internacionais e conhecia tão bem o processo, e numa fase da vida em que se acredita em sonhos, que é possível, foi de facto extraordinário.
Ver o sonho de todo um povo realizar-se também…
Sim, sim. E para quem defende os valores democráticos, o Estado de direito, poder sentir que contribuiu – por mais pequenino que tenha sido este contributo – para uma causa importante como aquela, que foi a libertação de um povo que estava oprimido e subjugado, foi na altura uma coisa fora de série.
Dá para perceber que ainda fica com as emoções à flor da pele quando recorda isso…
Sim. Foi algo de que me orgulho muito. E o fechar desse ciclo, quando passados 20 anos fui a Timor-Leste. Foi também muito giro. Sentia que conhecia Díli na minha cabeça. Tanto que eu escrevi sobre Timor, que quando cheguei a Díli vi finalmente aquilo que durante tanto tempo tinha imaginado, foi uma sensação impressionante.
E Xanana, quando esteve com ele pessoalmente?
Só estive com o Xanana Gusmão quando ele veio a Portugal em 2000. Ele fez questão de me conhecer pessoalmente. Só me conhecia por telefone. Falávamos horas a fio, pelo menos duas, três vezes por semana. Já tinha conhecido antes a mulher (Kirsty Sword), que tinha cá estado anteriormente e foi ela quem me ligou quando ele veio. Tenho uma foto mítica com ele, que a Kirsty nos tirou, e que guardo religiosamente.
Onde é que ele estava quando falavam?
Na cadeia em Cipinang.
E lembra-se das palavras que lhe disse Xanana quando a conheceu pessoalmente?
Simples. De braços abertos e um grande sorriso, disse-me: “Finalmente!” Diria que todo este processo foi uma experiência única. Era uma miúda e a responsabilidade que me deram na altura também me ajudou muito a ganhar confiança em termos profissionais, em relação ao que somos capazes de fazer quando acreditamos e quando nos empenhamos.
E vai direto do SIEDM para a Proteção Civil?
Não. Ainda volto à Marinha, não para o protocolo, mas para a secção de informações, aproveitando um pouco o know-how que tinha adquirido no SIEDM. Em 2000 entrei nos quadros da Proteção Civil.
E porque quis ir para a Proteção Civil?
A minha permanência na Marinha estava sempre limitada a um máximo de oito anos. Soube, por um colega meu, que iam abrir concurso para uma vaga na área de relações internacionais. Confesso que nesse tempo não fazia a menor ideia do que era a Proteção Civil, nunca tinha ouvido falar, não tenho nenhum bombeiro na família – ou seja, não tinha nenhuma ligação a esta área. Mas decidi concorrer, sem qualquer esperança de entrar, claro. Mas, depois, foi engraçado, porque ao ler a legislação de Proteção Civil comecei a achar que era capaz de ser muito interessante e acabei por ficar muito entusiasmada. Fiz o concurso, mas fiquei em segundo lugar. Não entrei. Fiquei com muita pena. É o que se chama “morrer na praia”. Continuei na Marinha, mas passados uns três ou quatro meses ligaram-me da Proteção Civil a dizer que a primeira classificada tinha desistido e que o lugar podia ser meu.
Quem era na altura o presidente da Proteção Civil?
O Dr. António Nunes, que foi, nessa altura, criar um designado gabinete para a qualidade alimentar [futura ASAE].
E começou logo a trabalhar?
Tive cerca de um mês para reorganizar a minha vida. Comecei em junho de 2000.
E quando tem o primeiro contacto com operações no terreno?
Foi logo no inverno de 2001, quando destacámos uma missão de assistência às cheias de Moçambique. Foi a primeira vez que desci às operações para ajudar no lançamento dessa missão. Compor a equipa, organizar a deslocação, transportes e logística. Mas foi no verão de 2003 que tive o maior impacto, pois a dimensão dos incêndios obrigou-nos a pedir ajuda internacional. Quem tinha a pasta da UE e estava mais dentro destes processos era uma colega minha, a Vera Ferreira, que estava fora do país, numa reunião no México. O presidente pediu-me que fosse eu a tratar do pedido de ajuda interna. Passei praticamente o mês e meio seguinte na sala de operações.
Foi um ano muito complicado.
Foi muito difícil, sim. Os mecanismos não estavam agilizados como estão hoje, mesmo em termos internacionais. Mesmo assim, tivemos uma resposta extremamente positiva, com ajuda de muitos países e uma enorme solidariedade em termos europeus, em particular. Foi, de facto, um ano horrível. Tivemos dias de 600 ocorrências. Foi o meu primeiro murro no estômago.
O que é que pensam nessas alturas? O que devíamos ter feito, o que temos de fazer mais?
Nessa altura eu não tinha ainda muita noção do que era resposta operacional aos incêndios. Não era a minha área. Mas fui-me apercebendo das coisas e tive de me integrar em todo o esforço de resposta para que a componente internacional fosse enquadrada no terreno. Mas é mesmo aqui que nasce o “bichinho” das operações. E a oportunidade acabou por acontecer quando aquela minha colega saiu para o INEM. Fiquei com a pasta da UE e com as missões internacionais. Tratava de toda a projeção de forças, com elementos dos bombeiros, da GNR e da PSP, para fora – desde o sismo do Irão, da Argélia, os incêndios de Marrocos – e começo a estar cada vez mais próxima da parte operacional, participando também em vários exercícios no estrangeiro.
Como foi começar a trabalhar com bombeiros e com os polícias, para alguém que tinha sido tenente da Marinha e oficial de informações?
Foi sempre muito fácil. Eu tinha o histórico militar, que de alguma forma me ajudou a entrar num mundo também hierarquizado, onde as coisas estão vocacionadas para a componente operacional. Nessa perspetiva, eu nunca estranhei uniformes, nunca estranhei fardas – para mim as cadeias de comando são coisas naturais e intuitivas, fruto da passagem que tive pela Marinha e até da minha educação da parte do meu pai. Habituei-me a isso desde muito cedo. Depois também pelo meu feitio, penso eu, sempre me integrei bem nestas realidades operacionais. Não me importo de fazer sacrifícios, durmo nas mesmas tendas que eles, como rações de combate como eles, se eles não tomam banho eu também não tomo e, portanto, acho que a minha integração foi muito natural. Nunca exigi nada de diferente por ser mulher. Nada disto é um esforço para mim.
E em 2007 chega a adjunta de operações nacionais… O que foi mais difícil até agora?
Não foi ser difícil. Foi o sentir uma grande responsabilidade. Aqui lidamos com as pessoas e quando as coisas correm mal pode haver consequências graves. Todos os dias sinto a grande responsabilidade que temos. E isto é uma coisa que não deixa de nos acompanhar quando voltamos a casa ao final do dia.
Nunca despem a farda?
Nunca. É mesmo H24 (24 horas por dia em alerta).
E a família habituou-se bem?
Foram-se habituando. Tenho um grande apoio dos meus pais, que moram ao lado. São um pilar importantíssimo, principalmente por causa dos miúdos. Preciso mesmo de ajuda para ter a profissão que tenho. Os filhos habituaram-se a que eu de vez em quando desapareço, a que às vezes deixe festas de anos a meio, não consigo ir sempre às festas de Natal ou às reuniões de pais, já tive de os tirar de dentro de água na praia, para os deixar em casa e ir para Carnaxide [onde está localizada a sede da ANPC]. Quando fui para Monchique estive uma semana sem ir a casa, saí de manhã e voltei passada uma semana… Enfim, eles aprenderam a viver com uma mãe H24. Tenho sempre um kit de emergência no carro, com os básicos necessários para o caso de precisar, de repente, de estar fora uns dias. Confesso que durante muito tempo me martirizava um bocado com isto, mas hoje acho que eles um dia vão entender. Não é que seja por um bem maior, mas por um bem diferente. Nunca tive nenhum chamamento para nenhuma coisa, mas acho que trabalhar nesta área, mais do que uma responsabilidade, é um privilégio. Tem riscos, pois, como disse, uma decisão mal tomada pode ter consequências graves, mas é um privilégio poder contribuir para esta causa, com tantas pessoas que trabalham em prol dos outros. É o verdadeiro serviço público.
Como é que uma pessoa tão apaixonada por aquilo que faz viveu o ano de 2017, no qual morreram 115 pessoas nos incêndios em junho e em outubro, em que a Patrícia Gaspar foi o “rosto” da Proteção Civil?
2017 é o ano que ninguém quer viver. Foi um ano muito difícil. Muito difícil. Houve momentos em que tivemos de dar notícias muito más. Foi um ano muito complicado, durante o qual muitas das coisas que fazíamos foram questionadas e ainda são. Foi um ano em que aprendemos todos, quer como profissionais quer como sociedade.
Como é que a Patrícia conseguia afastar as emoções nos momentos em que tinha de vir anunciar tantas mortes?
Tento focar-me naquilo que estou a fazer naquele momento. Chorei, a propósito de Pedrógão, passado quase um ano, quando li uma reportagem sobre um menino que ficou órfão e num projeto na escola construiu uma espécie de “máquina do tempo” – usa um capacete branco com antenas ligadas a uma caixa de cartão e sonha voltar atrás no tempo. Quebrei e chorei muito, acho que foi uma descompressão de tudo o que tinha contido em 2017. Durante o verão passado tentei não descompensar, porque se isso acontecesse não conseguia fazer o meu trabalho. O que tentei fazer foi, sobretudo, passar uma mensagem real do que estava a acontecer. Nunca disse nada que não fosse verdade, nunca escondemos nada que fosse importante. Obviamente que não podia apresentar-me exaltada ou emocionada. É um trabalho pessoal. Tínhamos de ser objetivos, tranquilos e sóbrios.
Já neste ano esteve a comandar as operações em Monchique, ao quinto dia de um fogo que parecia incontrolável. Como foi estar à frente desse combate?
Foi uma decisão do comando nacional. Temos regras e procedimentos que estão instituídos do Sistema Integrado de Operações e Socorro e depois temos o Sistema de Gestão de Operações, que determina estas questões de transferência do comando de uns níveis para os outros. Não é uma análise puramente quantitativa, há também avaliações qualitativas, nas quais jogamos com vários fatores. Naquele caso tivemos uma operação que foi evoluindo, tornou-se cada vez mais complexa e a decisão foi fazer evoluir a cadeia de comando e passá-lo para nível nacional.
E uma decisão dessas é bem recebida a nível local?
Não tive qualquer problema. Isto não é chegar, ver e vencer. Cheguei ao teatro de operações, estive algum tempo a inteirar-me do que estava a acontecer no terreno, a perceber o que tínhamos em cada uma das frentes, quais os meios, o que estava a ser feito, quais eram as opções estratégicas. No momento em que achei que tinha as informações de que precisava fizemos um briefing com todos os agentes de Proteção Civil envolvidos e assumi o comando.
Fez muitas alterações estratégicas?
Não houve nenhuma mudança radical. Sobretudo foi perceber onde tínhamos de atuar, ou seja, qual era o ponto da situação no momento, incorporar toda a informação técnica e científica que estava a ser-nos dada, a análise operacional das condicionantes do incêndio – a orografia, o próprio comportamento do fogo, a meteorologia -, tudo estava a ser trabalhado quer ao nível nacional, pela célula de apoio e análise aos incêndios florestais, quer pelos analistas que tínhamos no terreno da força especial de bombeiros e do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Todas as decisões tomadas foram quase sempre colegiais. A função de comando pode ser às vezes muito solitária, mas quanto mais for baseada em dados concretos, melhor. Todas as decisões que tomei foram sempre depois de ouvir todos os atores que estavam no teatro de operações. Sempre com a prioridade de salvar as vidas humanas, garantindo evacuações preventivas e a segurança das habitações.
Como viu as críticas de algumas pessoas às evacuações?
No limite, prefiro ter alguém zangado, mas vivo.
Como evoluiu esse processo de decisão em relação a 2017?
Desenvolvemos ferramentas de apoio que nos têm ajudado muito, sobretudo no acompanhamento mais científico do comportamento do incêndio, no controlo da gestão dos meios, para que a decisão possa ser o mais sustentada possível. Agora é preciso também termos noção de que há fenómenos climatéricos extremos impossíveis de combater.
E também temos uma “catastrófica” quantidade de combustível do terreno, como assinalaram uns peritos sul-africanos que cá estiveram… A limpeza das florestas veio para ficar?
Tem de entrar na rotina das pessoas. Se quero viver no mundo rural, tenho de cumpria as regras de autoproteção. O projeto Aldeia Segura, Pessoas Seguras, lançado neste ano, tem sido fundamental. As catástrofes, infelizmente, têm muitos aspetos negativos, mas permitem-nos também crescer. Se tivermos a honestidade intelectual de aprender com as coisas que correram menos bem, temos a possibilidade de evoluir e melhorar os nossos procedimentos. Este programa tem permitido chegar a populações mais isoladas, nas áreas mais vulneráveis do território, mostrando que as pessoas e as comunidades podem e devem contribuir para a sua segurança também. É uma questão estruturante da nossa sociedade. Não podemos é perder o ímpeto. É um trabalho de continuidade. E eu sinto que neste momento há uma grande recetividade da sociedade para participar. Participei em algumas das filmagens dos spots da Aldeia Segura, Pessoas Seguras e fui a uma aldeia no distrito de Coimbra. Foi incrível ver o entusiasmo dos moradores, que eram os figurantes, durante toda a tarde. Completamente disponíveis para aprender, para perceber o que têm de fazer para melhorar os seus comportamentos. Nesta perspetiva, acho que houve mesmo um salto astronómico. Mas, repito, tem de ser um trabalho de continuidade. Eu posso comprar mais helicópteros de um ano para o outro, mas não mudo de geração, de comportamentos, de um ano para o outro. E as sementes estão lançadas.
É importante para a Proteção Civil ter militares do seu comando [o presidente é o tenente-general Mourato Nunes, o comandante operacional nacional é o coronel Duarte Costa]?
Colocaria a questão de outra forma. É importante para a Proteção Civil ter pessoas competentes na sua direção, seja qual for a sua origem.
O Ministério Público acusou 12 arguidos por 697 crimes que terão ocorrido durante o incêndio de Pedrógão Grande. Entre os acusados, dois comandantes distritais de Leiria da Proteção Civil e o comandante dos bombeiros voluntários de Pedrógão Grande. Que consequências isto vai ter na ANPC?
Penso que a sensibilidade do tema impõe serenidade e prudência nas avaliações e nos comentários. Devemos manter-nos tranquilos enquanto profissionais e enquanto cidadãos.